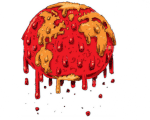O interminável conflito da mineração peruana em meio ao deserto político
- Detalhes
- Eduardo Gudynas
- 24/07/2012
O conflito desatado no Peru pelo megaprojeto de mineração Conga é ilustrativo da importância das análises internacionais. Lá, neste investimento de cerca de 4,5 bilhões de dólares, apresentado pelos seus promotores como “a salvação” de uma das regiões mais pobres do país, está sendo disputada uma das mais fortes corridas políticas e econômicas a respeito da compreensão do desenvolvimento da América Latina.
Conga é uma proposta de megamineração a céu aberto de ouro e cobre, no departamento (estado) de Cajamarca. Promovido pela empresa Yanacocha (uma associação de capitais peruanos e a Newmont, uma gigantesca mineradora), sempre esteve envolto em polêmicas. Apesar de se tratar de um enorme investimento (os empresários garantem que chegará a 4,8 bilhões de dólares) e de se esperar que fará disparar as exportações, sempre encontrou resistência local.
As razões da oposição ao projeto são diversas. Em primeiro lugar, rejeitam-se os impactos ambientais, incluindo a desaparição de lagos andinos que os moradores locais consideram fundamentais, tanto para a agricultura como para o abastecimento de água potável. Nas regiões andinas, se conhecem estes e outros impactos ambientais que já foram vividos ao longo das décadas de coexistência com outras mineradoras. Tampouco acreditam nas promessas de uma gestão ambiental por parte da empresa Yanacocha, devido a seu comportamento em outros empreendimentos. E como se fosse pouco, o projeto foi aprovado no final do governo de Alan Garcia, afundado no descrédito com os cidadãos.
Como Ollanta Humala baseou parte de sua campanha sustentando que antes da exploração mineradora vinha a proteção da água, muitos acreditaram que ao conquistar a presidência o empreendimento em Cajamarca seria suspenso. Equivocaram-se, e desde então o conflito não parou de aumentar. A administração Humala abandonou seu tímido progressismo inicial e se encaminhou para uma estratégia de desenvolvimento convencional, baseada na exploração massiva de seus recursos naturais. A promessa de “primeiro a água, depois o ouro” se transformou num ambíguo chamado em busca tanto de um como de outro, dos lagos e dos investimentos.
A consequência inevitável foi o estouro de um protesto cidadão, de massa, em Cajamarca, incluindo grandes manifestações populares e paralisações cívicas com o apoio do próprio mandatário da região. Frente à escalada de protestos, Humala decidiu se movimentar ainda mais à direita: declarou o Estado de emergência, militarizou a região e caiu em sua primeira crise política de envergadura. Renunciaram vários ministros e os grupos “progressistas” abandonaram a administração. O que era um governo em disputa entre uma ala conservadora e outra progressista durou apenas 136 dias, e em dezembro de 2011 voltou-se decididamente “à ordem e aos investimentos”, como advertiram alguns analistas peruanos.
Desde então, o belicismo na região não diminuiu, ao contrário, segue crescendo e passou por seguidas greves, uma marcha nacional em defesa da água e da vida e diversos enfrentamentos, com várias mortes (cinco mineiros somente nos últimos 10 dias). Não é uma dinâmica excepcional, já que o mesmo estado de coisas está se repetindo em Equador, Bolívia, Colômbia e em menor medida Argentina. O protesto social e cidadão contra a megamineração a céu aberto se transformou em situação generalizada em toda a América Latina.
Uma análise da condução do caso Conga mostra muitas lições para o Uruguai. Tudo indica que o governo peruano decidiu aprovar o projeto minerador a todo custo por motivos como o enorme investimento, as expectativas de altos preços dos minerais nos mercados internacionais, a crescente crise nos países industrializados; em particular, leva-o adiante porque não tem outros planos alternativos. Mais ou menos os mesmos fatores estão presentes no Uruguai, em torno do projeto Aratirí.
O governo Humala buscou calar os protestos apelando à ciência. Como os estudos ambientais iniciais, realizados no Peru, eram muito questionados, apelou-se a especialistas estrangeiros. Contratou-se uma comissão de espanhóis que realizou uma dita “perícia”. A lógica da medida se baseia na suposição, muito comum, de que haveria um veredicto “da ciência”, objetivo e definitivo, que permitiria encerrar todas as discussões. É uma postura que, apesar de corriqueira, esquece que isso quase nunca ocorre. As organizações cidadãs cajamarquenhas aceitaram o desafio e realizaram uma “perícia” com seus próprios técnicos. Como era de se esperar, os resultados foram diferentes, as diferenças e suspeitas se aprofundaram e deixaram ainda mais em evidência as fraquezas das avaliações ambientais estatais. Não é demais lembrar que apelações similares à ciência se repetiram no Uruguai, e com resultados semelhantes (desde a aprovação aos transgênicos até a ponte no lago Garzón).
Seguidamente, o governo peruano apelou a outra tática também comum. Aceitaria a exploração mineradora, mas imporia um plano de compensações ecológicas (focadas em salvaguardar parte dos lagos em disputa), sociais (criação de 10 mil postos de trabalho) e econômicas (um fundo social com um montante de dinheiro não informado). Caiu-se na lógica, muito comum nos governos progressistas, do tipo “destruo teu ambiente, mas compenso com dinheiro ou um emprego”. O resultado no Peru: a medida não teve maior eco e o conflito seguiu aumentando.
Conga e outros casos (por exemplo, no Equador) mostram um novo tipo de conflitos que resistem à ideia que evita anular os impactos e que pretende compensá-los ou indenizá-los. Uma vez mais essa experiência peruana não é distante dos casos uruguaios, como por exemplo a aceitação da destruição na costa oceânica em troca de postos de trabalho, do tipo jardineiros ou domésticas nas futuras casas. Os conflitos de novo cunho, como o que ocorre no Peru, evidenciam que certos níveis de destruição ambiental não podem ser avaliados em uma escala econômica.
De maneiras similares, foram caindo uma atrás da outra as tentativas de apaziguar o protesto em Cajamarca. Acossaram-se as organizações sociais e cidadãs, voltou-se a declarar Estado de emergência e até levaram à prisão um dos líderes locais, espancando-o fortemente na frente das câmeras. Chegou-se assim a uma situação quase limite, com a perda da legitimidade política do governo central. Muita gente não acredita mais em Humala, nos partidos políticos mais conhecidos, na empresa, nos técnicos universitários. É um deserto político. Tampouco se pode esquecer que muitas autoridades locais ou regionais conquistaram eleitoralmente seus cargos a partir de plataformas que prometiam conter a mineração, e por isso estão cumprindo com suas promessas eleitorais.
Neste deserto político, estão em discussão as essências das políticas de desenvolvimento do país: ser ou não ser um país minerador. Eis a questão. O governo de Humala está despido de alternativas, não as buscou, e como não as tem em mãos volta a cair na exportação de matérias primas.
Poderá se sustentar que o caso uruguaio é muito diferente ao de tais comunidades andinas, que enfrentam há décadas a prepotência mineradora, seus impactos sociais e ambientais, assim como a cumplicidade governamental. Mas olhando vários casos uruguaios, mais uma vez se encontrarão semelhanças. Há aqui (no Uruguai) uns quantos problemas ambientais que diferentes governos são incapazes de resolver. Repetem-se constantemente as denúncias sobre o uso de agroquímicos, persistem as incapacidades no manejo do lixo ou na resolução da contaminação das nascentes, faz-se pressão a respeito das avaliações de impacto ambiental e até há políticos que defendem a megamineração antes de conhecer seus impactos.
Está se aprendendo algo com a experiência peruana? Na esquerda, está se pensando em alternativas para que os países não voltem a ser provedores de matérias primas da globalização?
Eduardo Gudynas é sociólogo uruguaio e diretor do Centro Latinoamericano de Ecologia Social.
Tradução: Gabriel Brito, Correio da Cidadania.