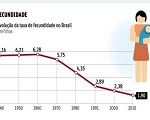O Acordo na GM
- Detalhes
- Rogério Castro
- 02/02/2013
O aguerrido Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos não conseguiu tirar do horizonte a ameaça de demissão de 1.530 trabalhadores da montadora americana General Motors (GM) em sua planta localizada no município do interior do estado de São Paulo. Além do acordo entre as partes, que prorrogou por mais dois meses o contrato de trabalho de 780 trabalhadores que estavam licenciados (layoff) e preservou até dezembro o emprego de 750 trabalhadores devido à manutenção da produção de um modelo automotivo específico, a montadora conseguiu impor uma redução salarial de 42% para novos funcionários, caindo o piso dos atuais R$ 3.100 para R$ 1.800. Ainda segundo o Sindicato, mais de 1.100 trabalhadores, até outubro passado, haviam sido desligados da GM pelo Programa de Demissão Voluntária (PDV). A direção da empresa, antes de anunciar a intenção de fechar o setor de Montagem de Veículos Automotores (MVA), teria considerado a fábrica de São José pouco competitiva por conta do elevado custo da mão de obra em relação à concorrência.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José é ligado à Conlutas, central sindical e popular que rivaliza com a CUT. Antes de sua criação, em 2006, os integrantes da Conlutas faziam parte da CUT, central sindical historicamente ligada ao PT. Dentre as várias razões do racha, a crítica aos acordos com as montadoras – ou a patronal de uma forma geral – referentes ao Banco de Horas, PDVs, fechamento de postos de trabalho em decorrência dos ajustes estruturais das empresas etc., era uma espécie de roteiro-guia que embasava e justificava a necessidade de ruptura com a Central de hegemonia petista (a ascensão do PT ao poder em 2003 só fez agravar a tensão interna). Tendo agora que provar do mesmo veneno, e de contar com o que outrora seria definido como “migalhas” – três vencimentos-base para rescisão dos trabalhadores do layoff e cinco para quem aderir ao PDV –, é chegada a hora de se perguntar o seguinte: estaria apenas nos “dirigentes pelegos” a causa da instabilidade no emprego, das demissões nas montadoras e dos acordos desfavoráveis aos trabalhadores (que teriam em comum o aumento do grau de exploração)? Para além das reais diferenças no que concerne à forma de ação e do horizonte estratégico das duas centrais, acreditamos que o ponto central da discussão é desconsiderado, ou ao menos não posto no seu devido lugar, dada a visibilidade de que realmente necessita para o entendimento global do problema.
Vejamos. É corrente no campo da crítica ao modo de produção capitalista ligado ao marxismo o fato de que nos encontramos numa crise. Alguns autores acreditam que, desde a crise do modo keynesiano-fordista, ingressamos num patamar mais crítico para o capital, que agora não mais poderia proporcionar ondas expansivas de longa duração (Welfare State). István Mészáros, apesar de considerar o período do Welfare como o primeiro momento da crise estrutural, vai afirmar que, tanto no pós-guerra, como nos dias de hoj,e o gargalo da reprodução do capital seria a impossibilidade de ampliar o consumo na mesma proporção do desenvolvimento das forças produtivas. A saída encontrada pelo capital, que primeiro teria ampliado o consumo pela estruturação de um mercado consumidor de massas com a necessária regulamentação política do Welfare, foi intensificar o caráter perdulário e destrutivo (“obsolescência planejada”) do sistema. O aumento do desemprego crônico seria outra das manifestações dessa crise endêmica do capital. Outros autores, como o inglês David Harvey, falam em um regime de “acumulação flexível”, com terceirização da força de trabalho como forma de diminuir os custos de produção, contratos temporários, etc. Todo esse ajuste em prol de uma empresa mais “enxuta” e mais competitiva. O limite dos recursos naturais não renováveis também estaria na leitura segundo a qual estaria havendo uma ativação dos limites absolutos do capital.
Esse cenário catastrófico, portanto, seria exatamente o retrato do mundo contemporâneo. De posse desse arsenal crítico, torna-se perfeitamente compreensível que a onda de dispensas na GM estaria ligada, por exemplo, à busca de uma produção com custos mais baixos, o que tornaria a empresa mais “competitiva” – a planta de São José era avaliada como de altos custos salariais. A GM disputa com a Toyota a liderança mundial na venda de automóveis. A venda de veículos no Brasil, por exemplo, tem sido subsidiada pelo governo federal, que tem aberto mão do IPI para manter o consumo “aquecido”, como dizem os economistas, via diminuição do preço final (subtraído o encargo do IPI). A fórmula do governo é a de que, mantendo o consumo, mantém-se a (necessidade da) produção e, por conseguinte, os postos de trabalho. Nisso, inclusive, é que se apoia o Sindicato de São José no seu pedido de intermediação do governo na proibição das demissões. Se o setor automobilístico estaria recebendo incentivos, por que então estaria demitindo?
Mas o problema é mais profundo e grave do que parece. Se as empresas estão cada vez mais tendo que recorrer aos ajustes para manterem-se competitivas no mercado (demissões, achatamento salarial como forma de diminuir os custos); se precisam cada vez mais de incentivos fiscais para “estimular” o consumo (ou manter “um padrão”) via diminuição de preços (note que não são só os carros objeto das isenções do IPI, mas também os produtos da chamada linha branca – geladeira, fogões, máquinas de lavar, etc.), fato que em certa medida estaria em perfeita sintonia com a diminuição do tempo de vida útil das mercadorias (“obsolescência planejada”) e com a utilização predatória dos recursos naturais (utilização irracional); é porque a produção desenfreada de mercadorias – traço característico do modo de produção capitalista – é o que se encontra em crise, e não consegue mais, por si mesma, expandir-se (ou manter-se em patamares regulares) sem gerar danos sociais (desemprego etc.) e ambientais (mobilização de matérias-primas para uma produção perdulária). Numa palavra, o circuito de produção-consumo das mercadorias não conseguiria mais fechar sem o auxílio (de fora da produção) governamental ou servindo-se de artifícios irracionais (mercadorias feitas para serem substituídas num curto intervalo de tempo), além de gerar os danos já citados.
O quadro de devastação é tão grande, e isso inibe e diminui a margem de negociação dos Sindicatos (mesmo os combativos, como o de São José), que a mesma empresa, a GM, anunciou, um dia após o acordo, investimentos em outra planta, certamente com condições “mais favoráveis” (leia-se: com custos salariais mais baixos). A coisa é explícita: transfere-se para um lugar onde haja mão de obra em abundância (coisa não muito difícil de encontrar nos dias de hoje) e disposta a aceitar condições salariais inferiores. O fenômeno ao qual o sociólogo Ricardo Antunes denomina de desterritorialização das unidades produtivas para regiões onde o movimento operário é inexistente ou mais frágil.
Logo, como se vê, é totalmente não condizente com o quadro acima se falar em estabilidade no emprego ou em estatização sem se atentar para a problemática imanente à situação vigente. O problema da produção não pode, mais do que nunca nos dias de hoje, ser compreendido dissociado do problema da demanda ou do consumo. Se os ajustes nas fábricas são necessários para mantê-las competitivas no mercado, se o incentivo externo torna-se cada vez mais necessário para a produção ser realizada no consumo, e com isso evitar a eliminação dos atuais mínimos postos de trabalho (há de se considerar aqui o incremento técnico também!), é porque o sistema de produção atual não consegue se equalizar mais por si mesmo, sem os artifícios irracionais da produção destrutiva. Dessa forma, torna-se sem efeito questionar as consequências singulares sem ter no horizonte a dimensão global do problema. Dizendo de outro modo, o caso da GM é apenas a manifestação direta (com seus efeitos) de uma crise com raízes bem mais profundas. De modo que, no estágio em que nos encontramos, mais do que nunca, ou questionamos o modo de organização da produção, apontando e demonstrando a sua indissolubilidade – assim como os danos por ele causados –, ou continuaremos a ter que conviver com as suas sequelas (expressas na chamada “questão social”), cada vez mais graves, e para as quais só se tem tentado remediar com medidas paliativas, que não equacionam o problema.
O modo de produção atual não absorve mais força de trabalho – o que faz o desemprego, ou o subemprego, o trabalho “informal” etc. ser uma constante – e não mais se atualiza sem mecanismos auxiliares – sejam governamentais ou artificiais. Destarte, mais do que defender a manutenção dos empregos, como reivindica o Sindicato de São José, é preciso ter claro em mente que não é a preservação dos atuais postos de trabalho que vai fazer com que mais sejam gerados, ou os mesmos mantidos. Ao contrário, a polêmica pública que deve ser travada é a de que o sistema de produção atual, além dos danos gerados, não se satisfaz mais por si mesmo, sem o auxílio estatal, que abre mão de arrecadação, ou mesmo sem lançar mão de recursos “irracionais” – como a produção destrutiva, perdulária etc. Sem questionar esse quadro como um todo, altamente carcomido por ele mesmo, a superação dos problemas mais imediatos por ele gerados, como o de São José – e que representa, portanto, a crise do capitalismo enquanto sistema de produção desenfreada de mercadorias –, tende a ser um objetivo cada dia mais distante. Em contrapartida, o seu prolongamento, ou o seu não enfrentamento, tende cada dia mais a torná-los crônicos, e, com isso, cada vez mais insuportáveis.
Rogério Castro é doutorando em Serviço Social pela UFRJ.