Anos decepcionantes
- Detalhes
- Jurandyr O. Negrão
- 06/01/2014
Depois do eufórico ano de 2010 (quando o PIB cresceu mais de 7%), o ano de 2013 se encerrou como o terceiro seguido em que a economia brasileira exibe crescimento fraco – e mais baixo do que se esperava.
Em parte isso se deve ao desempenho ainda cambaleante da economia mundial. Sobretudo por causa das economias ricas - Europa em recessão (branda, mas prolongada); Japão e EUA retomando a atividade ainda sem grande ímpeto -, o PIB do mundo deverá fechar o ano com alta tímida, próxima de 3%. Assim, de forma análoga ao que se observa no Brasil, depois de um 2010 de recuperação muito rápida – que alimentou a ilusão de que a crise financeira nos países ricos seria rapidamente superada -, 2013 foi o terceiro ano seguido de crescimento fraco e abaixo das expectativas da economia global.
Isso dificulta o crescimento no Brasil por limitar o espaço para exportar e inibir a confiança empresarial (e, portanto, a disposição das empresas para investir). Mas é evidente que o baixo dinamismo da nossa economia está ligado também outros fatores.
Um desses fatores é o nível de endividamento das famílias. Dez anos atrás, o estoque de dívidas contraídas pelas famílias brasileiras era bastante baixo, como reflexo da instabilidade e da insegurança tanto dos consumidores como dos bancos. Mas a contratação de empréstimos pelas famílias, essencialmente para financiar compras de bens no varejo, cresceu bastante ao longo dos últimos anos. Cresceu tanto que em 2011 aumentou bastante a proporção das famílias que não conseguiu se manter em dia com os pagamentos devidos. Esse aumento da inadimplência gerou prejuízos para os bancos e os levou a aumentar suas exigências para conceder um empréstimo a uma pessoa.
Por isso desde 2011 o crédito para o consumo cresce mais devagar. E não há razão para esperar que isso mude, pois a proporção do orçamento das famílias destinada ao pagamento de dívidas segue alto, limitando seu fôlego para contratar novos empréstimos.
Do ponto de vista do crescimento, portanto, o baixo endividamento das famílias é um “cartucho queimado”. Outro é a progressiva valorização do real. A queda pronunciada e quase contínua da cotação do dólar facilitou bastante a contenção da inflação a partir de 2003, assim como facilitou a convivência entre uma taxa de inflação contida e um crescimento mais robusto da economia.
Só que o dólar barato foi solapando a competitividade da produção nacional, cujos custos e preços, quando medidos em dólares, subiram de forma quase contínua. O resultado foi a perda de mercados para concorrentes estrangeiros da indústria – lá fora e sobretudo no mercado brasileiro. Em 2012 isso se traduziu em queda da produção da indústria (de quase 3%) e do investimento.
A partir de meados de 2012 o governo enfim se dispôs a agir para estancar a valorização do real. Enfrentou um tabu liberal ao taxar com mais força a entrada de capitais voltados a usufruir das taxas de juros brasileiras, ainda muito mais altas do que o padrão internacional (embora esse descompasso já tenha sido bem maior). E colheu, já em 2013, uma melhora, ainda que tímida, da produção da indústria.
Essa mudança na política cambial, fácil de justificar com argumentos pragmáticos (entre os quais o de que a grande maioria dos países está já há algum tempo praticando a chamada “flutuação suja”, com clara interferência do governo na formação da cotação do dólar), foi devidamente execrada pelos defensores do sacrossanto “tripé macroeconômico” (meta de inflação, câmbio flutuante, destinação de grande parcela das receitas públicas ao pagamento de dívidas e juros).
Já falamos do bônus que essa mudança trouxe (uma inflexão na trajetória preocupante da indústria brasileira), falta falar do ônus, inevitável. Ao subir pelo segundo ano seguido, a cotação do dólar foi de novo fator de aumento dos preços. (A outra grande pressão sobre os preços em 2013 adveio da quebra da safra de grãos, sobretudo devido a uma seca nos EUA , que encareceu bastante os alimentos). Assim, mais uma vez a inflação ficou perto de 6%, claramente acima dos 4,5% que constituem o centro da meta.
PIB crescendo na faixa de 2-2,5%, inflação perto de 6%. Assim foi 2013, assim se espera que vá ser 2014.
A economia em 2014: melhora tímida no Primeiro Mundo
Para esboçar as perspectivas para a economia do Brasil, no ano que se inicia, é preciso deixar claro em que ambiente global se supõe que ela estará inserida. Por essa razão, esta análise prospectiva se desdobra em duas: esta primeira trata das expectativas em relação ao desempenho da economia internacional em 2014; e a seguinte tratará propriamente das perspectivas brasileiras.
E, então, o que se espera da economia mundial em 2014? Espera-se, mais uma vez, uma melhora: que as economias ricas cresçam mais, que o comércio internacional cresça mais, que o PIB global acelere da faixa de 3% para a de 3,5%-4%. Essa é a expectativa predominante (no FMI, entre bancos, entre governos). Como destaquei na parte retrospectiva, sobre 2013, essas esperanças de melhora vêm se frustrando desde 2011. Por que agora seria diferente?
Alguns fatores indicam que as chances de um 2014 melhor são razoáveis. Os principais dizem respeito à Europa. Ao longo de 2013 diminuiu o receio de eclosão de um grande trauma financeiro no Velho Continente (análogo à quebra do gigantesco banco americano Lehman Brothers, em setembro de 2008) –, basicamente porque a chamada troika (União Europeia, FMI e Tesouro do EUA) deu mostras enfáticas de que agirá para impedir que outros países (além da Grécia) deixem de pagar seus credores externos; e o Banco Central Europeu, em paralelo, sinalizou (contrariando sua tradição) que socorrerá bancos que voltem a enfrentar dificuldades.
Além disso, na Europa e também nos EUA estão previstos aumentos de impostos e cortes de gastos públicos menos fortes do que os que vêm dificultando o crescimento desde 2011. (Para lembrar: o chamado “ajuste fiscal” nos países ricos tem sido agressivo, com vistas a estancar o violento aumento da dívida pública desatado pela crise financeira iniciada em 2007 – pelo efeito combinado de trilionárias operações de socialização de prejuízos dos bancos e da perda de receitas provocada pela queda da atividade econômica).
Nos EUA, além desse fator diretamente econômico, também um elemento político sugere a possibilidade de um desempenho melhor da economia em 2014. Nos últimos anos, a estratégia muito agressiva dos Republicanos, voltada a paralisar o governo Democrata, gerou bastante incerteza sobre o raio de manobra e a eficácia da política econômica. Mas a ofensiva republicana do final de 2013, que chegou a provocar o fechamento temporário de alguns serviços públicos (por falta de dotação orçamentária), pode ter levado ao esgotamento dessa estratégia de confronto sistemático.
O indício mais claro dessa possibilidade é o resultado de pesquisas de opinião que indagaram quem era responsável pela paralisia dos serviços públicos. Perto de 80% dos eleitores norte-americanos apontaram os Republicanos como responsáveis, e uma ampla maioria condenou sua atitude.
Dentro do Partido Republicano, quem mais tem defendido a opção pelo confronto é a corrente de extrema-direita conhecida como Tea Party. Mas os deputados que integram essa corrente respondem por apenas 40 das 239 cadeiras do partido na Câmara dos Deputados. Parece provável que, tendo em vista o desgaste ante a opinião pública, outras correntes do partido preferirão aumentar o diálogo com os Democratas. Isso reduziria a incerteza política e, portanto, facilitaria uma aceleração da maior economia do mundo em 2014.
Das principais economias desenvolvidas, falta falar do Japão. Ele é o melhor exemplo do estrago que uma crise financeira pode produzir, mesmo num país rico. A bolha imobiliária japonesa se rompeu nos já distantes anos finais da década de 1980, interrompendo décadas de crescimento rápido da economia.
O impacto negativo desse evento sobre a confiança foi tão grande que até hoje a atitude defensiva dos empresários e das famílias mantém a economia sujeita ao fantasma da deflação (ou seja, de um processo prolongado de generalizada queda de preços – movimento que estimula o adiamento de compras e, portanto, dificulta muito a retomada da atividade). Em 2013, o governo japonês arriscou uma tacada mais ambiciosa para arrancar a economia do marasmo prolongado: enormes injeções de moeda, com vistas a induzir aumentos de preços. Os resultados iniciais foram positivos, por isso espera-se um 2014 de razoável crescimento do PIB.
E, por fim, falta falar de uma economia que não está entre as ricas, mas cujo PIB só fica atrás dos EUA. Tendo se tornado rapidamente, a partir da virada do milênio, na nova protagonista da economia mundial, a China vem suscitando temores de que seu modelo de crescimento, baseado em exportações de manufaturas de baixo custo e baixa sofisticação, estaria se esgotando.
Uma das consequências desse possível esgotamento seria um enfraquecimento da demanda por matérias-primas (dado que a China, há anos e anos, tem sido a principal responsável pelo aumento dessa demanda). Os preços das commodities cairiam, prejudicando os grandes produtores (como o Brasil).
Mas a China, embora de fato não esteja repetindo as taxas de crescimento do PIB altíssimas (na casa dos dois dígitos), do período pré-crise financeira global, vem sustentando uma expansão na faixa de 7% ao ano, desmentindo os prognósticos mais pessimistas.
Entre os que se surpreendem com isso, há os que apontavam que o sucesso da China tinha solapado as bases de sua competitividade. Isso porque a explosão do emprego urbano desde os anos 80 acabara por produzir um salto do custo do trabalho, pelo efeito combinado de salários mais altos e maiores encargos sociais sobre a folha.
Juntando a isso a valorização da moeda chinesa, o custo do trabalho na China, que em 1995 era notoriamente baixo (apenas um quarto daquele que se observava, por exemplo, no México), já não mais destoa do verificado em economias ditas “emergentes” de renda mais alta do que a chinesa (como o México e o Brasil).
A constatação é correta, mas se apesar disso as exportações da China não “implodiram”, é sinal de que a competitividade chinesa já se sustenta (também) sobre outras bases. O ponto principal é que a China está ascendendo rapidamente em termos de capacidade tecnológica (talvez até mais depressa do que, em décadas passadas, ascenderam a Coreia do Sul e mesmo o Japão). A indústria chinesa já invadiu ramos mais sofisticados, como a automobilística e a aeronáutica. Mais de cem mil chineses estudam nas melhores universidades da Europa e, principalmente, dos EUA. Assim, do ponto de vista estrutural – e a despeito do seu custo ecológico, entre outros problemas – o “milagre” chinês não parece perto de se esgotar.
Ademais, mais de US$ 3 trilhões reservados nos banco central e um nível de endividamento público que se situa (como proporção do PIB) entre os mais baixos do mundo propiciam à política econômica da China margem de manobra bastante ampla e, especialmente, grande autonomia para tomar decisões de forma soberana (ou seja, a salvo de constrangimentos impostos pela dita comunidade financeira internacional).
Tudo isso que aqui se comentou sobre as maiores economias do planeta sugere que são razoáveis as chances de que, em 2014, o mundo facilite o crescimento econômico no Brasil (embora o risco de nova frustração global não seja desprezível). O que se espera do Brasil é o tema da continuidade do artigo.
Jurandyr O. Negrão é economista.









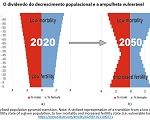


Comentários
Sinceramente Gislaine
Assine o RSS dos comentários