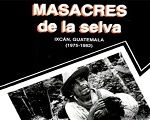Venezuela: a armadilha
- Detalhes
- Atilio Boron
- 10/12/2015
As eleições parlamentares na Venezuela trazem diversos ensinamentos que acho necessário sublinhar. Em primeiro lugar que, contrariamente a todas as previsões dos linguarudos da direita, o pleito foi realizado, como os anteriores, de maneira impecável. Não houve denúncias de nenhum tipo, salvo o grupo de presidentes latino-americanos que, às 4 da tarde (duas horas antes de o processo eleitoral se encerrar) já anunciavam o ganhador da contenda. Fora isso, a “ditadura chavista” voltou a mostrar transparência e honestidade do ato eleitoral mais desejado por muitos países de dentro e de fora da América Latina, iniciado pelos Estados Unidos.
O reconhecimento feito pelo presidente Nicolás Maduro, mal se deram a conhecer os resultados oficiais, contrasta favoravelmente com a atitude da oposição, que no passado insistiu em desconhecer o veredito das urnas. O mesmo cabe dizer de Washington, que ainda hoje não reconhece o triunfo de Maduro nas eleições presidenciais de 2013. Uns são democratas de verdade, outros são grandes simuladores.
Em segundo lugar, é importante ressaltar que depois de quase 17 anos de governos chavistas e em meio a duríssimas condições prevalecentes na Venezuela, o oficialismo siga contando com a adesão de 40% do eleitorado em uma eleição parlamentar. Terceiro, o resultado desloca a oposição da sua postura confortável e seu frenético denuncismo porque agora, ao contar com uma folgada maioria parlamentar, terá corresponsabilidades na gestão da coisa pública. Já não será só o governo central o responsável pelas dificuldades que acossam a cidadania. Essa responsabilidade será de agora em diante mais compartilhada.
Quarto e último, uma reflexão mais à fundo: até que ponto se pode organizar “eleições livres” nas condições existentes na Venezuela? No Reino Unido deviam ser celebradas eleições gerais em 1940. Mas o estouro da Segunda Guerra Mundial obrigou-as a serem postergadas até 1945. O argumento utilizado foi de que o resquício ocasionado pela guerra impedia que o eleitorado pudesse exercer sua liberdade de maneira consciente e responsável. Os contínuos ataques dos alemães e as enormes dificuldades da vida cotidiana, entre elas a obtenção dos elementos indispensáveis para a mesma, afetavam de tal maneira a cidadania que impediam que esta exercesse seus direitos em pleno gozo da liberdade. Foram muito distintas as condições sob as quais se levaram a cabo as eleições na Venezuela? De todo, não. Houve importantes semelhanças.
A Casa Branca havia declarado em março que a Venezuela era “uma não usual e extraordinária ameaça à segurança nacional e à política exterior dos Estados Unidos”, o que equivalia a uma declaração de guerra contra esta nação sul-americana. Por outra parte, há muitos anos Washington tem destinado gordos recursos financeiros para “empoderar a sociedade civil” na Venezuela e ajudar na formação de novas lideranças políticas; eufemismos que pretendiam ocultar os planos gerencistas da potência hegemônica e seus afãs por derrocar o governo do presidente Maduro.
A prolongada guerra econômica lançada pelo império, assim como sua incessante campanha diplomática e midiática, acabaram por erodir a lealdade das bases sociais do chavismo, esgotada e também enfurecida por anos de desabastecimento planejado, aumento abusivo de preços e auge da insegurança cidadã. Sob estas condições, as quais sem dúvida é preciso agregar os grossos erros da gestão macroeconômica do oficialismo e os estragos produzidos pela corrupção, nunca combatida seriamente pelo governo, era óbvio que a eleição de domingo passado tinha que terminar como terminou.
Desgraçadamente, a “ordem mundial” herdada da Segunda Guerra Mundial, que em um documento recente Washington reconhece que “tem servido muito bem” aos interesses dos Estados Unidos, não foi igualmente útil para proteger os países da periferia da prepotência imperial, seu descarado intervencionismo e seus sinistros projetos autoritários.
A Venezuela é a última vítima dessa escandalosa imoralidade de “ordem mundial” que assiste a uma agressão convencional sobre um terceiro país com o propósito de derrotar um governo satanizado como inimigo. Se isto segue sendo aceito pela comunidade internacional e seus órgãos de governabilidade global, que país poderá garantir para seus cidadãos “eleições livres”?
Por algo, nos anos 80 do século passado os países do capitalismo avançado bloquearam uma iniciativa plantada no seio da ONU, que pretendia definir a “agressão internacional” como algo que fosse mais além da intervenção armada. Lendo a recente experiência do Chile de Allende, alguns países tentaram promover uma definição que incluísse também as guerras econômica e midiática, como a que foi desenrolada sobre a Venezuela bolivariana, e foram derrotados.
É hora de revisar esse assunto, se queremos que a pobre democracia, arrasada faz umas semanas na Grécia e este domingo na Venezuela, sobreviva à contraofensiva do império. Se esta prática não pode ser removida do sistema internacional, e segue-se consentindo que um país poderoso intervenha desavergonhada e impunemente sobre outro, as eleições serão uma armadilha que só servirá para legitimar os projetos reacionários dos Estados Unidos e seus coronéis regionais. E pode ocorrer que muita gente comece a pensar que talvez outras vias de acesso ao – e manutenção do – poder possam ser mais efetivas e confiáveis que as eleições.
Leia também:
Atilio Boron é sociólogo argentino
Traduzido por
Raphael Sanz, da Redação