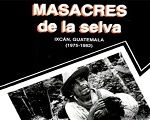Cuba, Fidel e o dia depois: a possibilidade de uma ilha
- Detalhes
- Pablo Stefanoni
- 23/12/2016
“A história me absolverá”, Fidel Castro
Nenhuma revolução pôde recriar-se como mito durante meio século. Nenhuma, com a exceção da Cubana. Cinquenta anos depois do outubro russo, a revolução havia passado pelo traumático reconhecimento do gulag stalinista. Meio século depois da Longa Marcha vitoriosa de Mao Zedong, o Império do Meio já estava transitando para o “exitoso” experimento de capitalismo selvagem combinado com partido único, com o velho maoísmo deslocado do poder.
Mais próxima, a épica Revolução Sandinista na Nicarágua apenas superou a década e teve de lidar com uma desmoralizante derrota nas urnas. Mais longe, tampouco o Vietnam pôde sustentar o esforço de Ho Chi Min e o Viet Cong hoje se aproxima dos Estados Unidos para fazer frente à potência China. O Camboja de Pol Pot mostrou que socialismo e barbárie podiam fazer uma poderosa junta e a Coréia do Norte da monarquia Juche rapidamente perdeu o encanto para qualquer pessoa sensata. O mais liberal “titoismo” iugoslavo acabou com uma sucessão de massacres interétnicos e os túneis do delirante Enver Hoxah seguem existindo debaixo de uma Albânia controlada por máfias.
Mas Cuba – apesar de todo tipo de padecimento – segue contendo diversas camadas geológicas de entusiasmos passados e presentes de numerosas gerações latino americanas que sem dúvida coagularam na despedida de Fidel Castro. Para muitos, nas esquerdas, a ilha segue sendo o espaço mítico da resistência anti-imperialista e – pesem as evidências que vão no sentido contrário – de um tipo de sociedade diferente. “Sim, há problemas, mas por acaso não há países com problemas ainda mais graves nos campos político e econômico? Cuba não seria sobretudo um país agredido e bloqueado?”
A morte do titã capaz de desafiar um império a apenas 150km de distância ocorre em um momento de retrocesso das esquerdas (tanto no norte quanto na América Latina), e da impossibilidade de imaginar um mundo além do capitalismo, além de um renovado auge das direitas anticosmopolitas como alternativas às direitas globalizadoras e neoliberais. Possivelmente por isso, a necessidade de encontrar ancoradouros mítico-simbólicos para as presentes batalhas conduz grande parte da esquerda a um profundo silêncio na hora de fazer um balanço histórico da experiência cubana. O título do livro da filósofa política Cláudia Hilb – Silêncio, Cuba – resumiu em duas palavras esta atitude que considera que enquanto dure o bloqueio dos EUA não é o momento de fazer críticas ao sistema cubano.
Por outro lado, a Revolução Cubana permitiu confirmar teorias diferentes e também opostas: para os populistas foi a vontade do povo que teceu a história no “bom sentido”; para a nova esquerda o castrismo e seus barbudos vinham insuflar vivacidade aos soporíferos manuais soviéticos de marxismo-leninismo e a romper os limites do reformismo; para os comunistas – que originalmente não apoiaram os guerrilheiros da Sierra Maestra – se tratou do fim de uma revolução aventureira mas que apesar de um desvio inicial encontrou seu caminho de amizade com a URSS e de fusão entre barbudos e comunistas. Até podiam fazer algumas torções para mostrar que em Cuba se confirmou a tese trotskista da “revolução permanente”, na qual uma pequena burguesia radicalizada avançou desde tarefas democrático-burguesas até a declaração do socialismo e a expropriação da burguesia com o apoio das massas. Isto ainda inclui setores da social democracia regional que simpatizaram com um anti-imperialismo em uma chave latino americana propiciada por seus próprios pais fundadores – como Alfredo Palacios – nas primeiras décadas do século XX.
***
O regime instaurado por Fidel Castro em 1961 combinou escatologia marxista-leninista com mitologia nacionalista revolucionária. A proximidade geográfica com os Estados Unidos, e as poderosas correntes anexionistas presentes na ilha ; as sucessivas frustrações com república pós colonial, nascida após a guerra hispano-estadunidense de 1898; e a crise moral do sistema alentou o que Rafael Rojas chamou de “ansiedade do mito”. Seja pela falta de mitos nacionais ou pelas dificuldades para organizá-los em uma narrativa coerente.
Mas o que faltava não era apenas um mito de origem, mas um mito do destino. “O amplo espectro da política cubana que, nos anos 20 e 30 abarcava desde a esquerda marxista até a direita nacionalista, solicitou uma nova revolução que cumprisse o desígnio ´martiano´”, escreveu Rojas em Tumbas sin sosiego (Anagrama, 2006). E isso deu lugar a um duplo mito: o da revolução inacabada e o do regresso do messias martiano. Assim, a confirmação de uma certa teleologia insular e a defesa da soberania nacional abonariam o terreno para a revolução de 1959 e pouco depois para o por vir, não sem rupturas, em socialismo vernáculo.
Com efeito, mais que uma continuidade com o acervo político-cultural prévio do nacionalismo cubano, o novo sistema já consolidado se sustentava em um José Martí reinventado e combinado com forte proximidade à URSS; tanto política, como econômica e cultural, expressada por exemplo pelo apoio ao sufocamento soviético da Primavera de Praga, ou na negativa a condenar a invasão do Afeganistão e na instalação de um sistema repressivo – de vigilância e delação – similar aos que operavam no bloco socialista “real”. Assim, Cuba não foi alheia a racionalidade cínica que se construiu à sombra do socialismo de Estado como mecanismo de supervivência política e psicológica. E aos poucos se parece mais a esse mundo já extinto do que gostaríamos de ver.
A revolução inconclusa e a necessidade de um novo libertador não é patrimônio exclusivo dos cubanos. De fato, os populismos latino americanos dos anos 50 ofereceram como programa uma Segunda Indepêndencia e alguns dos seus líderes se postularam como libertadores econômicos (com Bolívar ou San Martín como libertadores políticos). E o mesmo ocorreu com a nova onda nacional-popular da década de 2000, na qual a busca da identidade nacional e regional foi atualizada com novos/velhos discursos históricos revisionistas que capturaram a imaginação política de novas camadas de jovens e não tão jovens, assim como os discursos oficiais sobre a história como uma luta contínua entre Nação e Anti Nação.
O bloco da Alba (atual Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América) e da Argentina são os espaços onde mais se desenvolveram estas tendências. E não é por acaso que estes governos encontraram em Cuba um marco simbólico e sentimental de um novo nacionalismo revolucionário, que “compensa” com anti-imperialismo os limites das suas impossibilidades pós capitalistas.
Dito de outro modo: se o socialismo do século XXI voltou para a agenda, este é pensado como um aprofundamento do nacionalismo; uma espécie de triunfo póstumo da esquerda nacional de Jorge Abelardo Ramos. Evo Morales considerou Fidel como um “avô sábio” enquanto Hugo Chávez o considerou uma espécie de mentor ideológico que o distanciou de suas ambivalências originais – o venezuelano era próximo a vários nacionalistas de direita – e o alentou pelo caminho do socialismo bolivariano. Como sobremesa, a Venezuela salvou Cuba de uma nova crise com uma solidariedade internacionalista edificada em abundantes quantidades de petróleo em troca de médicos e outras formas de apoio cubano ao regime chavista, sobretudo na organização das famosas missões (idealizadas por Fidel, segundo reconheceu o próprio Chávez, para recuperar apoio eleitoral).
***
O diplomata e escritor chileno Jorge Edwards sintetizou em uma coluna no El País uma das chaves de leitura da Revolução Cubana. Em seu texto conta que em um encontro com Fidel, este recordou uma conversa com Salvador Allende na qual, após oferecer ajuda militar, havia dito: “seremos ruins para produzir, mas para lutar sim somos bons”.
Com efeito, enquanto Fidel Castro foi um gigante da política internacional, um imbatível na conservação do poder e um gênio da retórica política, o desempenho de suas políticas domésticas foi menos que modesto, e em certas ocasiões catastrófico. O modelo cubano nunca pôde sustentar economicamente o ambicioso sistema social que implementou e daí a necessidade permanente de “padrinhos”.
“A população de menores salários, do interior do país, está provavelmente quiçá melhor hoje que antes da revolução porque apesar do deterioro dos serviços sociais em Cuba, ainda têm acesso a educação, saúde, ainda que de baixa qualidade por tudo o que ocorreu. E também às pensões da Seguridade Social (de montantes muito baixos). A classe média está pior. Com a população afrocubana houve melhoras, mas a questão racial não foi liquidada, porque o governo assumiu que com a revolução acabaria a discriminação e não foi assim”, resume o economista Carmelo Mesa-Lago.
É importante lembrar que Cuba nunca “foi” o Haiti – principal argumento comparativo da propaganda para justificar, sem pôr em discussão, a realidade cubana –; basta ver a densidade da vida cultural e intelectual, a quantidade de publicações e a emergência das classes médias urbanas desde 1959 para sua constatação.
Ainda que aos poucos a ênfase na existência do bloqueio estadunidense soava ser a resposta diante de qualquer problema, a economia de comando ultracentralizado que predominou na ilha – onde se estatizou mais que em grande d Leste Europeu – foi incapaz de atingir resultados satisfatórios, incluindo na produção de alimentos. O próprio Raúl Castro assinalou em uma oportunidade que “é preciso deixar de gritar abaixo o bloqueio e produzir”. Ademais, a estatização completa do país teve efeitos totalitários em várias dimensões da vida social.
Mesa-Lago aponta: “Cuba recebeu mais ajuda que nenhum outro país da América Latina, da URSS e outros países: 65 bilhões de dólares em 30 anos, ao que se somam agora os 13 bilhões de dólares anuais que aporta a Venezuela em comércio, investimento, petróleo, compra de serviços profissionais de médicos, etc.. Apesar de toda essa ajuda, Cuba não foi capaz de reestruturar sua economia”. E agrega que houve “ciclos ideológicos que levavam a uma crise, seguidos de ciclos programáticos de reforma para reduzir o descontentamento – porque o objetivo era manter o poder – e, de novo, marcha para trás. Não houve um modelo que tenha durado o tempo suficiente para que coalhasse, mas ainda assim era ruim”.
Sem dúvida a megalomania de Fidel não ajudou a encontrar um caminho mais institucionalizado. Tampouco é casual que o líder cubano sempre recomendasse a seus aliados não fazer o que ele fez. Edwards recorda que um dos conselhos que Fidel deu a Allende foi que nacionalizasse a mineração de cobre mas que deixasse o socialismo para mais adiante. E o mesmo repetiu a um Evo recém empossado na presidência da Bolívia: “não façam o que nós fizemos”. Em 2010 foi ainda mais longe e afirmou: “o modelo cubano já não funciona nem para nós mesmos”.
***
Parte das tensões na capacidade de renovação do denominado “socialismo do século XXI”, em comparação ao do século XX, reside em seu apego emocional com Cuba e em sua nostalgia setentista – por vezes exagerada e não menos vezes anacrônica.
O socialismo com salsa de fundo, que parecia mais libertário que o sistema soviético, logo derivou em uma autocracia, paternalista, estatista, providencial e geradora de passividade. Mas hoje, quando o “realismo capitalista”, como escreveu Mark Fischer, impede sequer imaginar alternativas (não apenas levá-las em prática), discutir Cuba pareceria próprio de bem-pensantes, almas belas e intelectuais acadêmicos, mas não é. Os méritos da saúde e da educação cubanos são inegáveis – igual ao seu deterioro a partir dos anos 90. A frase martiana “ser culto para ser livre” – tão repetida em Cuba – tem uma contraparte dialética: “ser livre para ser culto”. Não é por acaso que as ciências sociais não tenham nem de perto o desenvolvimento das ciências duras (como a biotecnologia, e assim por diante); nem o fato que tantos escritores cubanos tenham tido de sair da ilha ou enfrentado diversos tipos de perseguição (para não falar da obsessão anti-homossexual de Fidel, uma política de Estado revertida em parte pelo ativismo de Mariela Castro em tempos mais recentes).
Um bom exemplo da tensão entre desenvolvimento cultural e limitações burocrático-autoritárias é a imprensa. É certo que existem alguns espaços de discussão como a revista Temas e seus fóruns de debate onde são abordadas questões outrora tabus como a discriminação racial contra os afrocubanos. Mas são exceção.
O paradoxo é que essa lentidão midiática se choca com os próprios êxitos da revolução: a criação de uma sociedade instruída, potencial consumidora de informação de melhor qualidade. A langue de bois ideológica, os ocultamentos, as surpreendentes “revelações” de irregularidades (uma vez que Fidel ou Raúl haviam dado o visto positivo) e os vai e vens sem aviso – como quando durante a visita do Papa os meios de comunicação se empenharam em ressaltar as raízes católicas da ilha – são o dia-a-dia de jornais como Granma ou Juventude Rebelde, para não falar da televisão.
“Esta é uma sociedade acostumada a não reclamar por seus direitos, já que os canais estão oxidados. Nem os sindicatos estão funcionando corretamente, são apêndices das diretorias das empresas. Qualquer greve seria imediatamente considerada contrarrevolucionária”, me disse, em 2006, um dos participantes da “revolução dos mails”, um movimento nascido como reação de vários referentes culturais – como o Prêmio Nacional de Edição, Desiderio Navarro – contra a aparição nas telas de Luis Pavón, diretor do Conselho Nacional de Cultura entre 1971 e 1975. Esses anos são conhecidos como o “quinquênio cinza” e recordam o predomínio do realismo socialista na arte, a perseguição a homossexuais e o silenciamento de intelectuais.
Outra vez, o contra-argumento é o bloqueio. A política de agressão imperial contra a ilha foi, sem dúvida, um dos fatores determinantes que permitiram a supervivência da psicologia e a prática da “ilha sitiada” – não só rodeada pela “maldita circunstância da água por todas partes” senão da CIA partout. Mas como explicava um jovem pesquisador: “é certo que todavia somos uma fortaleza sitiada, mas era o mesmo José Martí quem sustentava que ainda na guerra é necessário criar os embriões das instituições democráticas que regerão o período de paz”.
Contudo, hoje Cuba se move. Os trabalhadores autônomos já são cidadãos legítimos – e até mesmo elogiados na imprensa oficial –, também foram flexibilizadas as viagens aos exterior. Ao mesmo tempo se distenderam as relações com os EUA. Ainda que tudo avance e um ritmo “anda e para”. A elite cubana teme que o resultado das reformas se descontrole (a lembrança da Perestroika está aí para que vejam os riscos). A diferença dos ultraconservadores guerreristas republicanos dos EUA, é que eles sabem que a abertura por parte de Washington é mais perigosa do que o bloqueio.
“A elite política cubana é fechada. Não obstante, é possível haver uma diferença entre os grupos tecnocráticos/militares, que são duros politicamente mas orientados ao mercado e controlam uma alta porcentagem da economia e, por outro lado, o grupo burocrático rentista que é mais bem afeito às mudanças e mantém sua presença no Estado e sobretudo no Partido. Neste último grupo é visível a figura do número 2 do PCC (Partido Comunista Cubano), José Ramón Machado Ventura”, disse o sociólogo Haroldo Dilla, ex pesquisador do Centro de Estudos sobre a América, que sofreu brutal intervenção do governo em 1996. “Hoje em dia existem discrepâncias a respeito da forma de conduzir a economia – mais ou menos mercado, mais ou menos atividade privada – mas não há nada que indique diferenças sobre como dirigir a política, o que, por outra parte, é um temo sobre o qual não são recebidas pressões especiais devido à debilidade da oposição. A oposição é nula em efetividade política”.
Hoje, mais que a morte de Fidel – de algum modo já esperada por conta de sua longa convalescência e idade avançada – a transição cubana (o governo fala oficialmente em “atualização do socialismo”) será decidida na saída de Raúl Castro do poder em 2018, ano em que terá 88 aniversários completos.
Resta ver se este homem com sua crônica falta de carisma (como mencionou Dilla) e um passado pouco simpático, mas prático, que deseja encaminhar sua própria obra para as gerações vindouras, atinge seu objetivo e põe o que hoje é um tipo de socialismo militar em uma transição não catastrófica. Alguns no governo imaginam um pouco provável Vietnam no Caribe – ou seja, um modelo de crescimento econômico aberto ao mercado com partido único –; alguns críticos sonham com uma república social, democrática e independente dos EUA, e não faltam aqueles que gostariam de recolocar o anexionismo na pauta. Grupos muito pequenos brigam por um socialismo mais libertário e autogestionário. E muitos outros cubanos não esperam nada...
Qualquer saída é complicada quando se está a poucos quilômetros das barbas do império. Um império que, após a era cool de Obama, se tornou pouco previsível. Voltar a era pré-Obama não parece possível; há muitos interesses poderosos que apoiam a abertura, e o exílio de Miami já não é o mesmo que antes. Mas Donald Trump, o novo presidente de cabelo mostarda, ainda deve decidir o que fará com sua política sobre Cuba.
Pablo Stefanoni é chefe de redação do portal Nueva Sociedad, de Buenos Aires.
Publicado em espanhol na Revista Anfíbia.
Traduzido por Raphael Sanz, do Correio da Cidadania.