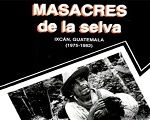Um debate com o MAIS sobre a Venezuela
- Detalhes
- Luis Leiria e Ana Carvalhaes
- 18/08/2017
A crise na Venezuela está dividindo águas entre a esquerda latino-americana e mundial. A violenta polarização em que vive o país, com chances de se converter numa guerra civil e com ameaças de ingerência dos Estados Unidos no conflito, tem sido motivo de apreensão, análise e debate, provocando tomadas de posição por todo o mundo. No amplo espectro da esquerda da América Latina, é praticamente unânime o repúdio a intervenções de qualquer tipo por parte da potência do Norte e dos governos de direita da região. Mas a esmagadora maioria dessa esquerda, incluído nela o PT e boa parte das correntes do PSOL, tem confundido o necessário rechaço ao imperialismo com um alinhamento acrítico ao governo de Nicolás Maduro.
Qualquer que seja a opinião do leitor, no entanto, não há como negar que a crise venezuelana agravou-se nas últimas semanas, com a eleição de uma Assembleia Constituinte que o presidente Maduro convocou ao arrepio das regras democráticas previstas na Constituição Bolivariana de 1999. Para elegê-la, o governo alterou completamente o sistema eleitoral para que a oposição, caso decidisse participar, nunca tivesse chances de vencer. O resultado foi uma Constituinte monopartidária, que até agora só aprovou, por unanimidade, tudo o que lhe foi proposto pelo governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). E que, por autodecisão, se deu um prazo de dois anos para aprovar o novo texto Constitucional – quando a Constituinte eleita nos tempos de Chávez aprovou em seis meses a Constituição de 1999.
A polarização na Venezuela e a disputa que se estabeleceu entre a Assembleia Nacional, com maioria da oposição de direita desde o pleito de 2015, e a nova Constituinte, tem como pano de fundo uma das mais profundas recessões que o país já viveu. O agravamento da crise econômica e o retrocesso quase completo dos avanços sociais das décadas anteriores foram decisivos para que o chavismo perdesse a maioria social de que desfrutou desde 1998. O conflito transferiu-se para as ruas a partir de abril deste ano, quando o governo decidiu responder aos protestos crescentes e à violência da oposição de direita com a violência repressiva do Estado e dos grupos paramilitares chamados “colectivos”, com pelo menos 120 mortes em consequência dos choques nas ruas e da repressão policial.
Evitar um novo “Muro de Berlim”
Para evitar, de entrada, que o debate a travar se reduza ao desqualificado Fla-Flu predominante nas redes sociais e mesmo nos espaços partidários e dos movimentos, é evidente que, diante de uma agressão militar dos Estados Unidos à Venezuela, na sequência das recentes declarações de Donald Trump, o nosso alinhamento com o governo venezuelano contra essa intervenção seria total e incondicional, e independente da avaliação que temos das políticas de Maduro e do balanço de seus resultados.
Mas esse alinhamento, quando e se ocorrer tal intervenção, não nos coíbe de afirmar a nossa convicção de que Maduro foi o responsável pela destruição das conquistas populares obtidas pelo chamado Processo Bolivariano, fazendo o país retroceder em todos os campos – na distribuição de renda, no direito à alimentação, na saúde, na educação, na organização popular – do que fora obtido anteriormente. Só que a crise não atingiu todos por igual. Os credores internacionais da dívida venezuelana receberam pontualmente os seus pagamentos; e uma nova elite, que já é conhecida como “boliburguesia”, prosperou em torno dos próceres do chavismo/madurismo, em particular em torno do complexo petrolífero e dos militares.
Como diz o jornalista e académico Pablo Stefanoni num inspirado artigo, “analisemos estes processos com sentido crítico e façamos todo o possível para que Caracas não seja o nosso Muro de Berlim do século 21”. É por isso que achamos fundamental esta discussão.
As responsabilidades do MAIS
Uma das organizações da esquerda brasileira que tomou mais recentemente posição sobre a crise venezuelana foi o Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista (MAIS), que comemorou há cerca de um mês seu primeiro ano de vida, depois de os seus integrantes terem saído em 2016 do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). O MAIS decidiu recentemente ingressar no PSOL.
Os autores deste texto consideram que o MAIS tem grandes responsabilidades no processo de reorganização da esquerda socialista brasileira, contribuindo para criar um necessário polo que apresente uma via diferente da que foi trilhada nas últimas décadas pelo Partido dos Trabalhadores.
Por isso, foi com muita preocupação que vimos a posição assumida pelo MAIS sobre a crise da Venezuela, em relação à qual temos grandes discordâncias. Tomamos a decisão de tornar público este texto polêmico porque achamos que faz parte essencial do processo de reorganização da esquerda um debate aberto e fraternal, feito com franqueza e sem crispações, um debate que procure a verdade e não se desvie desse objetivo.
As posições sobre os acontecimentos
No que diz respeito à Venezuela, a esquerda latino-americana divide-se entre quatro posições básicas, embora entre essas quatro haja posturas intermediárias:
1 – Há os que apoiam Maduro incondicionalmente, independentemente de perigo de intervenção externa;
2 – Há os que, na crise, se colocam no campo de Maduro, com críticas, argumentando que a prioridade é lutar contra o golpe imperialista que afirmam estar em curso;
3 – Há os que não se colocam nem no campo de Maduro nem no da MUD (oposição de direita) e sustentam que a prioridade é construir uma alternativa a ambos;
4 – Finalmente, há os que se colocam no campo da MUD, argumentando que as manifestações que esta organiza representam uma insurreição popular em curso e que a esquerda tem de disputar a oposição de direita a condução dessa insurreição.
A posição do MAIS corresponde à do item 2 da lista acima, enquanto nos identificamos com a do item 3. O MAIS expressou sua opinião no editorial do Esquerda online de 5 de agosto, num vídeo gravado por Valério Arcary e em dois artigos do mesmo autor, o primeiro, que precedeu o editorial, e o segundo, de 7 de agosto, com algumas precisões.
O editorial de 5 de agosto representa a posição oficial da organização e diz: “os socialistas revolucionários devem lutar pela construção de uma alternativa tanto ao governo de Maduro quanto à oposição de direita. A estratégia deve ser a superação do chavismo. (...) Entretanto, nesse momento de extrema polarização, a construção dessa alternativa passa por se colocar na linha de frente da luta para derrotar a ofensiva contrarrevolucionária da direita, da OEA e do imperialismo. Não se constrói uma alternativa socialista e revolucionária desde um terceiro campo que na prática não existe. Fazê-lo é cair no puro abstencionismo. (...) Neste momento tão dramático por que passa a Venezuela, a esquerda latino-americana tem como sua principal tarefa ajudar a derrotar a ofensiva contrarrevolucionária. (...) Ao mesmo tempo, é necessário exigir dos deputados constituintes uma saída socialista para o país.
Governo independente?
No vídeo, Valério insiste no dramatismo da situação venezuelana e afirma que o conflito existente no país não é entre democracia e ditadura. “O que está em jogo é que existe um governo independente em Caracas e hoje (esse governo) é alvo de uma operação de subversão, dirigida pelo MUD com apoio de Washington, com o apoio de Londres, com o apoio de Paris, de Berlim, até com o apoio de Brasília. O objetivo é derrubar o governo de Maduro para se apropriar dos recursos estratégicos de petróleo que são vitais para a manutenção da economia capitalista.”
No artigo “A Venezuela vive uma situação dramática”, o dirigente do MAIS insiste na tese do “governo independente”: “A Venezuela tem um dos raros governos independentes entre a ampla maioria dos Estados na periferia do mercado mundial”. E esclarece: “a permanência das vendas de petróleo para os EUA (durante o longo período de governos bolivarianos) não anula esta caracterização. Na América Latina só Caracas e Havana têm governos independentes. Não considero sustentável que Venezuela ou Cuba, muito menos a China, para citar outro exemplo, estejam em qualquer tipo de experiência de transição ao socialismo, mas são governos independentes. Como são independentes Irã e, possivelmente, Catar. E isso é, relativamente, progressivo na luta contra o domínio imperialista dentro de um rígido sistema internacional de Estados. (...) Independente significa que as forças políticas à frente do governo na Venezuela não aceitam a supremacia dos EUA, ou da União Europeia”.
No artigo “Existe ou não perigo real e imediato de golpe reacionário na Venezuela?”, de 7 de agosto, Valério volta ao tema: “O conceito de ‘governo independente’, em um sistema internacional de Estados que merece mais do que nunca o nome de ordem imperialista, tem utilidade para compreender o tipo de relação que mantêm com os centros de poder no mundo. Governos independentes são raros, excepcionais e, portanto, instáveis. Dizendo as coisas como são: o governo de Maduro é um governo burguês, apoiado em uma fração burguesa minoritária em formação, a ‘boliburguesia’. (...) Maduro se apoia em um regime bonapartista sui generis (ou especial, porque em um país dependente na periferia) sustentado, crescentemente, pelas Forças Armadas. Mas não vejo razões para haver muitas dúvidas de que é um governo independente. Independente de quem? De Washington, Londres, Paris, Berlim e Tóquio”.
Janela entreaberta para o campismo
O conceito de “governo independente do imperialismo” foi criado nos tempos de Guerra Fria para definir aqueles que não se alinhavam em um dos dois blocos – Estados Unidos e União Soviética – e tinham conflitos com o imperialismo, não aceitando os seus ditames e por vezes até os enfrentando. Tipicamente, um governo independente do imperialismo foi o de Gamal Abdel Nasser, do Egito, que chegou a ser atacado militarmente por duas potências imperialistas, Grã-Bretanha e França, e seu agente local, Israel, na Guerra do Suez em 1956.
Mas hoje, num contexto de mundo que já deixou de ser bipolar e em que se começa a pôr em causa a unipolaridade dos Estados Unidos, parece-nos que pôr na mesma categoria os governos de Caracas e de Pequim mais confunde que esclarece. Não será a China de hoje, segunda potência econômica do planeta, um subimperialismo regional com aspirações a se tornar um imperialismo global? E a Rússia e seus aliados, onde entram? E, já agora, se a Venezuela é um governo independente, por que não são “independentes” os governos da Bolívia e do Equador?
É evidente que, já neste século, houve e há governos enfrentados com o imperialismo, ou momentaneamente com alto grau de autonomia política frente às potências. E mais: a atual situação global de grande turbulência geopolítica faz surgirem não somente novos candidatos a imperialismos – regionais, como a Rússia de Putin, globais, como a ascendente China – como também momentâneos governos enfrentados com a ordem imperialista. Em nossa opinião, na primeira década do 21, os governos da Venezuela (Chávez), Bolívia (Evo Morales) e Equador (primeiro governo de Correa) – não por acaso países em que os processos de massas de questionamento ao neoliberalismo foram mais profundos - foram governos enfrentados com os planos e desígnios do imperialismo. Tiveram momentos, mais ou menos duradouros, de políticas anti-imperialistas razoavelmente ousadas. Portanto, de alguma independência, sempre relativa.
A chave para evitar o mau uso do conceito é entender que essa condição de “enfrentados com o imperialismo”, ou “autônomos” ou “independentes” é muito dinâmica e provisória. Governos que foram, nas palavras de Arcary, “relativamente, progressivos na luta contra o domínio imperialista” podem deixar de sê-lo muito rapidamente, ainda mais quando não avançam para medidas de real socialização dos meios de produção. O governo de Rafael Correa, no Equador, a nosso ver, deixou de ter enfrentamentos com o imperialismo. E o mesmo veio acontecendo com a Venezuela sob Maduro, em particular depois da morte de Hugo Chávez.
Portanto, utilizar a “independência” da Venezuela de forma estática, como se fosse um atributo permanente, leva a equívocos como o do MAIS. Soa como se um determinado governo que teve enfrentamentos com o imperialismo merecesse sempre nosso apoio ou nossa localização no “campo” dele. Parece-nos que a posição “campista”, que Valério Arcary tão valentemente tem combatido, encontra aqui uma janela entreaberta para se alojar.
Governo venezuelano enfrenta a “ordem imperialista”?
Conceitos à parte, vale a pena discutir, no concreto, até que ponto o governo de Caracas “não aceita a supremacia dos EUA, ou da União Europeia”. O dirigente do MAIS ressalta que “a permanência das vendas de petróleo (da Venezuela) para os EUA não anula esta caracterização”, sem dizer quais são os fatores básicos para definir a “independência”. Seguramente, o fato de os EUA terem sido os principais parceiros comerciais da Venezuela em todo o período da chamada Revolução bolivariana, e de esta relação ter se mantido praticamente sem sobressaltos até hoje, diz mais do que os embates retóricos entre governo venezuelano e dos EUA, por mais inflamados que sejam.
É verdade que Hugo Chávez impulsionou medidas que provocaram choques sérios com o imperialismo. Jamais fez parte dos planos do Pentágono e da Casa Branca que se extinguisse o regime bipartidário que vigorou de 1958 a 98 e se redesenhasse a distribuição interna da renda petroleira. Os EUA apoiaram abertamente o fracassado golpe de 2002 contra o seu governo e o locaute patronal do ano seguinte contra Chávez. Depois desses eventos, Chávez expulsou a velha burocracia pró-petroleiras estrangeiras da PDVSA e revisou contratos.
Outro choque importante foi quando Caracas liderou a oposição à ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), o projeto de subordinação dos países da América Latina aos EUA que Washington queria impor. A ALCA fracassou por não contar com o apoio de países importantes como, além da Venezuela, a Argentina e o Brasil, e também do Equador e da Bolívia. Evo Morales e Rafael Correa viriam a integrar, com Venezuela e Cuba, a Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA), outro projeto de Chávez, fundada em 2004 – um acordo de cooperação que chegou mesmo a discutir a adoção de uma moeda comum, mas que pouco avançou.
Neste período parece-nos correto dizer que houve, por parte de Caracas, enfrentamento com o imperialismo, mas afirmar que esse enfrentamento se prolongou por todos os mandatos de Chávez e de Maduro, parece bastante distante da realidade.
Durante o período em que gozou a prosperidade que lhe davam os elevados preços do petróleo, Chávez eximiu-se de adotar uma política econômica que encaminhasse a Venezuela para deixar de ser um país rentista, dependente quase exclusivamente das rendas do petróleo e que importa praticamente tudo o que consome. Pelo contrário, tornou-se ainda mais dependente dessas rendas (como muito bem explica Edgardo Lander aqui). De tal forma que o único grande projeto para a Venezuela delineado por Chávez e concretizado por Maduro baseia-se em mais extrativismo: desta vez, além do petróleo, o alvo são os minérios – com o Arco Minero do Orinoco. Por isso, também, o governo de Caracas manteve sempre estáveis as suas relações comerciais com os EUA, o principal comprador do seu petróleo, e o mais importante vendedor dos bens que a Venezuela consome.
A tragédia econômica, uma “grande depressão”
Não é de estranhar, assim, que quando chegou a crise provocada pelo desmoronamento dos preços do petróleo – produto que representa 90% das exportações do país – o governo venezuelano não tenha radicalizado medidas anticapitalistas, mas, pelo contrário, tenha passado a adotar o receituário do FMI: Caracas adotou uma violentíssima contração das importações. O resultado é uma das mais brutais recessões da história mundial: o PIB caiu 3,9% em 2014, 5,7% em 2015 e apocalípticos 18% em 2016, uma razia que derreteu os ganhos assinalados pelo índice do Desenvolvimento Humano (IDH) de 2015.
O economista marxista Michael Roberts dá-nos a dimensão desta tragédia: “De acordo com o FMI, o PIB da Venezuela em 2017 está 35% abaixo dos níveis de 2013, ou 40% em termos per capita. Essa é uma contração significativamente mais acentuada do que durante a Grande Depressão de 1929-1933 nos EUA, quando se estima que o PIB tenha caído 28%”.
A política do governo venezuelano de reduzir as importações e “honrar” todos os pagamentos da dívida externa levou a uma redução de 75% das importações de bens e serviços per capita em termos reais (ajustados pela inflação) entre 2012 e 2016, com um novo declínio em 2017. Ainda segundo Roberts, “tal colapso é comparável apenas ao da Mongólia (1988-1992) e ao da Nigéria (1982-1986) e maior do que todos os outros colapsos de importação num período de quatro anos em todo o mundo desde 1960. Isso levou a um colapso na agricultura e indústria ainda maior que o do PIB global, reduzindo quase US $ 1.000 per capita em bens de consumo produzidos localmente”.
Por outro lado, “obstina-se a pagar (a sua dívida externa), sem nenhum tipo de investigação nem auditoria independente, e já se dilapidaram desta maneira 60 bilhões de dólares em três anos”. afirma Carlos Carcione, do Marea Socialista, nesta entrevista. E completa: “Não nos cansaremos de insistir que esta dívida vem sendo paga à custa da fome, literalmente falando, do povo venezuelano, porque o que é destinado ao cumprimento da dívida é retirado das importações essenciais”.
Nas palavras de Emiliano Turán Mantovani, sociólogo dos mais ponderados dos chavistas críticos, na Venezuela “está se desenvolvendo um processo de ajuste progressivo e setorizado da economia, flexibilizando regulações e restrições anteriores ao capital e desmantelando paulatinamente os avanços sociais alcançados nos tempos anteriores da revolução bolivariana”. Turán exemplifica com a criação das Zonas Econômicas Especiais, parcelas do território entregues totalmente à administração dos estrangeiros; a flexibilização dos contratos na valiosíssima faixa petrolífera do Orinoco; e o que ele chama de “relançamento do extrativismo flexibilizado”.
Desesperado para obter dólares, o governo de Maduro embarca num projeto de megamineração, o Arco Mineiro do Orinoco, pelo qual entrega 111.800 km² de terras venezuelanas para empresas do ramo, “ameaçando fontes de vida-chave para venezuelanos, em especial para povos indígenas”.
A Venezuela da melhor distribuição de renda já não existe
Como consequência desta política, os resultados das medidas distributivas implementadas nos tempos áureos do chavismo foram anuladas em poucos anos. Recorremos mais uma vez a Carcione: “onde havia mercados populares como Mercal ou PDVDAL, nos quais grande parte da população podia aceder a alimentos de relativamente boa qualidade a preços subsidiados, hoje mal existe um sistema de distribuição estatal porta a porta, os CLAP, que ainda não conseguiu regularizar o apoio a um número muito baixo de famílias, que mal podem aceder a essas caixas ou cestas a cada mês e meio. Onde havia um sistema nacional de cuidados médicos primários, elogiado por todos, os Barrio Adentro, no qual era realizado o diagnóstico, se faziam exames elementares e até de certa complexidade e os medicamentos eram fornecidos gratuitamente se fossem necessários, hoje há terra arrasada, com equipas inoperantes, sem medicamentos, sem possibilidade de fazer os mais elementares exames básicos, com uma infraestrutura que, sem manutenção, está em decadência. E onde o número de profissionais foi reduzido de maneira dramática”.
O balanço traçado por Carcione é impiedoso: “onde havia casas de alimentação nas zonas mais vulneráveis, organizadas de forma a que os necessitados comessem sem custo, sustentadas pelo trabalho voluntário e solidário de donas de casa dos bairros, há já muitíssimos meses, senão anos, que não chegam os fornecimentos para cozinhar, o que provoca um fenômeno que era desconhecido na Venezuela Bolivariana: há cada vez mais cidadãos comendo do lixo. O mesmo com outra longa lista de políticas sociais que tiveram êxito durante anos e que hoje estão desaparecidas. O mesmo sucede com toda a legislação progressista, como por exemplo a Lei Orgânica do Trabalho. Ficam no papel, que aguenta tudo, mas não são aplicadas. E não falemos do salário, que já foi um dos primeiros na América Latina e caiu a níveis de Haiti. Enquanto isso, o grande capital local e estrangeiro recebe insultuosos benefícios de todo tipo”.
Diante do relato, fica evidente por que o governo de Maduro perdeu a maioria social que teve Chávez em seu tempo. Fica nítido também que não há de parte de Maduro qualquer iniciativa de contestação da supremacia dos Estados Unidos e da União Europeia.
Maduro e as ilusões em Trump
A contradizer a tese da “independência” de Caracas, há até, nos últimos meses, episódios caricatos. Em abril deste ano, ficamos sabendo que a Venezuela contribuiu com meio milhão de dólares para a cerimônia de posse de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos. A fonte da informação foi a própria Federal Election Commission. A doação foi feita através da Citgo Petroleum, a subsidiária da estatal petroleira venezuelana PDVSA nos Estados Unidos. O valor doado é superior ao de empresas multinacionais norte-americanas como a Ford, a Coca Cola, a Comcast, a Google, a Monsanto, a Pepsi, a Samsung e a Verizon, entre outras.
Curiosamente, a notícia da doação teve eco na imprensa internacional, mas foi tratada como se parecesse normal que num momento em que há gente morrendo na Venezuela por falta de medicamentos para controlar a diabetes, o governo esbanje 500 mil dólares para agradar ao presidente dos Estados Unidos.
A revelação veio trazer nova luz a declarações que Maduro foi fazendo, nos três primeiros meses deste ano, claramente favoráveis a Trump. Quando o novo presidente tomou posse, Maduro declarou que faria “tudo que esteja ao meu alcance para que, oxalá, a nova administração dos EUA retifique os erros e fracassos que foram as políticas de George W. Bush e de Barack Obama e se inicie uma nova etapa de comunicação, diálogo, respeito e não intervencionismo nos assuntos internos de nossos Estados”. Noutra coletiva de imprensa com o secretário-geral da OPEP, Maduro ressaltou que “houve uma brutal campanha de ódio contra Trump em todo o mundo”, e completou: “É preciso esperar. Tudo o que me atrevo a dizer é que não será pior que Obama.”
Em março, Maduro parecia ainda ter muitas esperanças nas boas relações com a Casa Branca: “O camarada Trump me está oferecendo Claps a bom preço” disse no seu programa de TV dominical, referindo-se às cestas básicas que o governo distribui através dos Comitês Locais de Abastecimento e Produção (Clap). Diante dos risos do auditório, ainda comentou: “Estão rindo? Ah, bom, vai haver uma surpresa”. Só em abril, depois de ver frustradas as suas expectativas, é que Maduro faz uma virada de 180 graus e denunciou que os EUA estão articulando um golpe contra a Venezuela.
O outro episódio ocorreu em maio deste ano, quando o governo venezuelano viu satisfeitas as suas desesperadas necessidades de divisas: o famigerado banco norte-americano de investimentos Goldman Sachs comprou 2,8 bilhões de dólares de dívida venezuelana ao Banco Central do país por 865 milhões de euros, pagando apenas 31% do valor de face de uma dívida que vence em 2022. A transação significou um balão de oxigênio para Maduro, ao mesmo tempo em que fornecia uma perspectiva de enorme lucro ao poderoso tubarão da finança. Business as usual. Todos aplaudiram o negócio? Não. A oposição de direita, evidentemente, sentiu-se traída, acusando o Goldman Sachs de se posicionar no lado errado da história.
Estes episódios, de alto poder simbólico, não são típicos de um governo em confronto com o imperialismo. Por isso vemos, sim, “razões para haver muitas dúvidas” de que Maduro presida hoje em dia a “um governo independente de Washington, Londres, Paris, Berlim e Tóquio”.
O golpe é iminente?
Resta, no entanto, a questão mais importante, que aliás dá título ao segundo artigo de Valério Arcary: existe ou não perigo real e imediato de golpe reacionário na Venezuela? O autor não podia sublinhar mais o “real e imediato” ao iniciar o artigo com uma extensa carta de Lênin ao Comitê Central bolchevique acerca da insurreição do general Kornilov contra o governo de Kerensky, durante a Revolução Russa, advogando uma mudança imediata de tática dos bolcheviques. Por que sublinhamos o “real e imediato”? Porque quando propôs a mudança de tática, o golpe de Kornilov já estava em curso e Lênin se preocupava por saber que sua carta só chegaria aos destinatários três dias depois, quando poderia ser já tarde demais. É neste quadro que se dá a mudança de tática em que os bolcheviques, seguindo Lênin, dizem: “não vamos derrubar Kerensky agora; nós agora abordamos de outra maneira a tarefa da luta contra ele, a saber: explicando ao povo (que luta contra Kornilov), a fraqueza e as hesitações de Kerensky” (tomamos carona da citação do artigo de Valério).
O dirigente do MAIS se serve desta evocação a Lênin para afirmar que “a tática ‘nem/nem’ parece ter perdido o prazo de validade com a iminência do perigo de um cerco imperialista que cria condições para uma tentativa de golpe” (a tática “nem/nem” é a que não se alinha com nenhum dos lados, e aposta na construção de uma alternativa).
Veja-se a diferença: enquanto Lênin falava de um golpe reacionário em curso, de tal forma que três dias poderiam ser tarde demais, o dirigente do MAIS fala da “iminência do perigo de um cerco imperialista que cria condições para uma tentativa de golpe”. O questionamento é: quanto tempo dura essa iminência? Três dias, como no caso de Lênin? Um mês? Um ano? Há defensores acríticos do chavismo que desde a subida ao poder de Chávez falam na iminência de um golpe, agitando há 20 anos o perigo iminente de uma invasão imperialista. Claro que essa agitação lhes serviu de cortina para ocultarem todos os equívocos no processo e as medidas autoritárias de Maduro.
Os desmandos antidemocráticos de Maduro
Chama a atenção que os companheiros do MAIS, em nenhum momento, reconheçam que é o governo Maduro que vem há anos desferindo golpe atrás de golpe contras as regras constitucionais para perpetuar-se no poder. Depois que o oficialismo perdeu as eleições para a Assembleia Nacional em dezembro de 2015, Maduro recusou-se a reconhecer qualquer decisão do parlamento, rejeitou o pedido constitucional de referendo revogatório, adiou eleições para governadores (porque o PSUV perderia), impôs regras partidárias que impossibilitam a legalização de organizações de esquerda críticas ao governo e encarcerou dirigentes da oposição. E agora cria sua “Constituinte” monopartidária, que até agora só aprovou medidas por unanimidade. E logo a primeira medida foi a demissão da Procuradora-geral da República, Luísa Ortega, que se opunha às medidas anticonstitucionais de Maduro.
Recordamos que para evitar qualquer hipótese de a oposição, caso se candidatasse, pudesse vencer, Maduro criou o expediente pelo qual 30% das cadeiras na nova Constituinte fossem preenchidas pelos representantes eleitos de “setores” (trabalhadores, empresários, camponeses), com base em listas às quais ninguém teve acesso. As eleições territoriais também foram alteradas, de forma a que as regiões agrárias pesassem muito mais do que as urbanas. E todas estas alterações das regras do jogo foram decretadas por Maduro dois meses antes, sendo que a organização específica para a eleição dos deputados setoriais foi feita mais tarde ainda e sem qualquer transparência.
Evidentemente, repetimos, no caso de um golpe da direita reacionária do MUD apoiado pelo imperialismo, ou uma intervenção direta de tropas imperialistas, não teríamos dúvidas do lado em que estaríamos – contra esse golpe e essa intervenção, seja o governo de Maduro “independente” ou não. Mas essa mudança de tática tem de ter em conta fatos reais, e não a suposta “iminência do perigo de um cerco imperialista que cria condições para uma tentativa de golpe”.
A importância das palavras-de-ordem democráticas
Há quem diga que quem critica Maduro nesse terreno do autoritarismo está se aferrando a questões de democracia formal, que levam a confundir revolução e contrarrevolução. Implícito neste raciocínio está este outro: os que defendem a democracia formal são os contrarrevolucionários, e os que a ignoram estão do lado da “revolução”.
Mas duas questões se levantam diante desta objeção: a primeira é se existe neste terreno alguma democracia de classe que supere a “democracia formal”, isto é, se o campo de Maduro está incentivando e encabeçando uma “democracia operária”, popular ou dos trabalhadores. Apesar de tentativas de porta-vozes do neostalinismo de mostrar o campo madurista como “revolucionário” e de classe, os companheiros do MAIS reconhecem o caráter capitalista do governo Maduro, que de socialista só tem palavras e nenhuma medida. Logo, as medidas anticonstitucionais e antidemocráticas de Maduro nada têm de “revolucionárias”, ou de mecanismos de defesa de um governo socialista contra o capital. São sim ataques à democracia, a serviço de um projeto bonapartista.
A segunda é: se é óbvio que a direita da MUD representa a contrarrevolução, as medidas de Maduro podem ser justificadas em nome da revolução? O próprio editorial do Esquerda online reconhece que, na “Constituinte” de Maduro, “as forças de esquerda, os grupos e ativistas independentes encontraram fortes obstáculos para legalizar suas candidaturas. (...) A quase totalidade dos candidatos das Comunas e do setor sindical, popular, camponês e indígena é ligada diretamente ao governo”. E Valério Arcary, no artigo do dia 7, deixa clara a sua opinião de que “o governo de Maduro é um governo burguês, apoiado em uma fração burguesa minoritária em formação, a ‘boliburguesia’".
Não parece muito polêmico constatar que os herdeiros do chavismo não têm qualquer pretensão de superar o capitalismo, ainda que com forte regulação estatal, se apoiando em um regime bonapartista sustentado, crescentemente, pelas Forças Armadas. Assim, de onde sai essa caracterização de que a defesa da “democracia formal” confunde os campos da revolução e da contrarrevolução? Os dois polos na Venezuela são alternativas burguesas-capitalistas em disputa pelo controle do Estado. A revolução que começou no “Caracazo” e que se refletiu na vitória de Chávez e na ascensão do chavismo, foi sufocada pelo bonapartismo do próprio Chávez e pelo colapso provocado pela política de Maduro.
Por isso é tão importante, nestas circunstâncias, a defesa das palavras-de-ordem democráticas – isso mesmo, da “democracia formal”! – para se chegar às massas. Que passa pela denúncia de medidas que façam retroceder garantias e processos democráticos, porque medidas antidemocráticas serão sempre reacionárias, a serviço de uma alternativa capitalista.
Lembrando Portugal
Nahuel Moreno defendeu, em pleno “Verão quente” da Revolução portuguesa, em 1975, e contra tudo o que pensava a esquerda radical (incluindo o PRT onde um dos autores e Valério militávamos) e o Partido Comunista Português (PCP), o direito de o PS de ter o seu jornal “República”, o último jornal diário português que não seguia a linha do PCP e da esquerda militar naqueles dias. Este jornal fora ocupado pelos tipógrafos, ligados à esquerda radical, que exigiam a demissão do seu diretor, um conhecido dirigente do Partido Socialista.
Pois Moreno defendia intransigentemente o direito democrático de o PS ter o seu próprio jornal. E mais: defendia que “diante da tentativa bonapartista do MFA-PCP, até a defesa da democracia burguesa é progressiva. Não vemos contradição entre a defesa das liberdades democráticas e dos direitos do PS, e o desenvolvimento dos órgãos do poder operário; pelo contrário, é uma combinação revolucionária, explosiva e indispensável”.
E explicava que, sem ganhar os operários do PS e neutralizar também a classe média urbana e rural que vota PS, não poderia haver revolução das comissões operárias e dos comitês de soldados em Portugal. Note-se que Moreno defendeu esta política sabendo que seria levada por um pequeno partido cuja média de idades deveria andar pelos 18 anos, tendo plena consciência das suas limitações e de como era difícil a vitória da revolução das comissões de trabalhadores, de moradores e de soldados. Mas mesmo um pequeno grupo não pode ser construído sem uma política adequada e dirigida à maioria.
Aquela visão de Moreno, que reivindicamos, é bem contraditória com o que o MAIS está defendendo na Venezuela, ou seja, a tática de priorizar a luta contra o “golpe” imperialista, colocando-se no campo político do madurismo e tendo como referência a “Constituinte” de Maduro – um atentado aos direitos democráticos! A essa Constituinte, o MAIS dirige seu desafio: “É necessário exigir dos deputados constituintes uma saída socialista para o país. É urgente que se modifique o caráter da atual Constituição que protege a propriedade privada e a liberdade de comércio e do lucro, preceitos nos quais se assentam todo tipo de exploração, a opressão e a desigualdade social”.
Os companheiros argumentam que “não se constrói uma alternativa socialista e revolucionária num terceiro campo que na prática não existe. Fazê-lo é cair no puro abstencionismo. A unidade de ação necessária para derrotar a contrarrevolução não significa depositar nenhuma ilusão no governo de Maduro”. Com esta argumentação, põem entre parênteses a construção de um terceiro campo (que, ao contrário do que afirmam, atua corajosamente, embora minoritário) e colocam-se ao lado do governo autoritário de Maduro, avalizando medidas totalmente anticonstitucionais e antidemocráticas.
Construir o “terceiro campo” é abstencionismo?
Que consequências tem esta política? Vejamos algumas.
A primeira é que o MAIS não define a sua política de acordo com as necessidades da maioria da classe trabalhadora, mas sim de uma minoria: os setores que se mantêm com o madurismo. Acreditar no número de oito milhões de votos na Constituinte madurista, uma votação que previa que uma parte do eleitorado votasse duas vezes e que se livrou dos mecanismos de controle que antes existiam (por exemplo, o eleitor passou a poder votar em qualquer seção eleitoral) é o mesmo que acreditar em contos de fadas. O madurismo, todos os dados apontam para isso, é uma minoria no país e uma minoria mesmo nos setores populares que apoiavam o chavismo. Mas a política do MAIS é voltada para esta minoria.
A segunda é que o MAIS rompe o diálogo com o fenômeno mais progressivo ocorrido no último período, que é a ruptura de importantes setores do chavismo com Maduro – o chamado “chavismo crítico”, que tem nas suas fileiras ex-ministros, intelectuais e ativistas. Até agora, este setor tem resistido aos cantos de sereia da direita e defendido uma posição que Valério Arcary definiria como “nem/nem” (nem MUD, nem Maduro). Ora, se o MAIS defende este posicionamento em termos estratégicos, e está abrindo mão dele por justificações táticas, a ruptura do diálogo com os chavistas dissidentes e o alinhamento com o madurismo (mesmo com alguma crítica) prejudica indelevelmente a estratégia. E entra em choque com o apelo do Marea Socialista, corrente de esquerda que é também parte do chavismo e está fazendo um chamado à criação de “um novo movimento emancipador”, dirigindo-se explicitamente ao chavismo crítico e à esquerda autônoma.
A terceira consequência é que o MAIS, na prática, se abstém do apoio ao chavismo crítico e da luta por um terceiro campo, socialista e democrático. A existência deste setor, que está bastante ativo na crise, mostra que não é ilusória a criação de um terceiro campo. Ele já existe na realidade, mesmo que minoritário, e isso é independente da vontade do MAIS. Não adianta esconder o sol com a peneira: a opção do MAIS por se situar no campo madurista não encontra justificativa na alegada impossibilidade de criar o terceiro campo.
Façamos o debate
Com este texto, queremos apenas dar o pontapé inicial ao debate, que estamos certos se fará da forma mais construtiva e objetiva possível, procurando a verdade. Voltando à citação de Pablo Stefanoni a que nos referimos no início, façamos todo o possível para que Caracas não seja o nosso Muro de Berlim do século 21. Ou, pelo menos, acrescentamos nós, que ele não caia sobre nossas cabeças.
Leia também:
Existe ou não perigo real e imediato de golpe reacionário na Venezuela?
A tragédia da Venezuela
Sobre revoluções e governos
Venezuela: a Assembleia Constituinte madurista
“No momento, não há saídas progressistas para a Venezuela”
Por que a Constituinte de Maduro não é democrática?
Luis Leiria e Ana Carvalhaes são jornalistas.