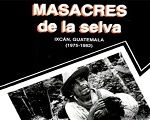Mercosul, Unasul e a indecisão do Brasil
- Detalhes
- Atilio Borón
- 17/07/2013
As últimas semanas foram pródigas em acontecimentos reveladores dos alcances da contraofensiva desatada por Washington com vistas a dinamitar os diversos processos integracionistas em marcha na América Latina.
O Mercosul e a Unasul são os alvos mais óbvios, porém, a Celac também está na mira e, ao demonstrar maior gravitação nos assuntos do hemisfério, também será objeto dos mais encarniçados ataques. Uma das armas mais recentemente utilizadas pela Casa Branca tem sido a Aliança do Pacífico, engendro típico da superpotência para mobilizar seus peões ao sul do Rio Bravo e utilizá-los como eficazes "cavalos de Troia” para cumprir os desígnios do império. Outra Aliança, a "mal nascida”, segundo o insigne historiador e jornalista argentino Gregorio Selser, foi inventada, no começo dos anos 60 do século passado, por J. F. Kennedy para destruir a Revolução Cubana. Aquela, a Aliança para o Progresso, que naquele tempo deu suporte a alguns prognósticos pessimistas entre as forças antiimperialistas, fracassou estrepitosamente.
A atual não parece destinada a correr melhor sorte. Porém, derrotá-la exigirá, da mesma forma que aconteceu com sua antecessora, toda a firmeza e inteligência dos movimentos sociais, das forças políticas e dos governos opostos – em diversos graus, como é evidente ao observar o panorama regional – ao imperialismo. Fraquezas e debilidades políticas e organizativas unidas à credulidade ante as promessas da Casa Branca, ou às absurdas ilusões provocadas pelos cantos de sereia de Washington, marcariam o caminho de uma fenomenal derrota para os povos de Nossa América.
Nesse sentido, é mais do que preocupante a crônica indecisão de Brasília em relação ao papel que deve jogar nos projetos integracionistas em curso em Nossa América. E isso por uma razão bem fácil de compreender. Henry Kissinger, que em sua condição de conotado criminoso de guerra une a de ser um fino analista do cenário internacional, o colocou de manifesto quando, satisfeito com o realinhamento da ditadura militar brasileira após a derrubada de João Goulart, acunhou uma frase que fez história. Sentenciou que “para onde o Brasil se incline, a América Latina também se inclinará”. Isso já não é tão certo hoje porque a maré bolivariana mudou o mapa sociopolítico regional para bem; porém, mesmo assim, a gravitação do Brasil no plano hemisférico continua sendo muito importante. Se seu governo impulsionasse com resolução os diversos processos integracionistas (Mercosul, Unasul, Celac), outra seria sua história.
Porém, Washington vem trabalhando há tempos sobre a direção política, diplomática e militar do Brasil para que modere sua intervenção nesses processos. E se notam êxitos consideráveis. Por exemplo, explorando a ingênua credulidade do Itamaraty, quando desde os Estados Unidos lhes dizem que garantirão para o Brasil uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, enquanto a Índia e o Paquistão (duas potências atômicas) ou a Indonésia (a maior nação muçulmana do mundo) e o Egito, a Nigéria (país mais povoado da África) e o Japão e a Alemanha, sem ir mais longe, teriam que conformar-se em manter seu status atual de membros transitórios desse organismo.
No entanto, outra hipótese diz que talvez não se trata somente de ingenuidade, porque a opção de associar-se intimamente a Washington seduz a muitos em Brasília. Prova disso é que, poucos dias depois de assumir seu cargo, o atual chanceler de Dilma Rousseff, Antonio Patriota concedeu uma extensa reportagem a Paulo César Pereira, da revista Veja. A primeira pergunta formulada pelo jornalista foi a seguinte: “Em todos seus anos como diplomata profissional, que imagem tem dos Estados Unidos?”.
A resposta foi assombrosa, sobretudo por vir de um homem que, supõe-SE, deve defender o interesse nacional brasileiro e, através das instituições, como o Mercosul, a Unasul e a Celac, participar ativamente na promoção da autodeterminação dos países da área: “É difícil falar de maneira objetiva porque tenho um envolvimento emocional (sic!) com os Estados Unidos através de minha família, de minha mulher e de sua família. Existem aspectos da sociedade americana que admiro muito”.
O razoável teria sido que, de imediato, fosse pedida a sua demissão por "incompatibilidade emocional” para o exercício de seu cargo, para falar com delicadeza, coisa que não aconteceu. Por quê? Porque é óbvio que no governo brasileiro coexistem duas tendências: uma, moderadamente latino-americanista, que prosperou como nunca sob o governo de Lula; e, outra, que acredita que o esplendor futuro do Brasil passa por uma íntima associação com os Estados Unidos e, em parte, com a Europa, e que recomenda esquecer-se de seus revoltosos vizinhos. Essa corrente ainda não é hegemônica no Palácio do Planalto. Porém, sem dúvida, hoje em dia encontra ouvidos muito mais receptivos do que antes. Essa mudança na relação de forças entre ambas as tendências saiu à luz em inúmeras ocasiões nos últimos dias.
Apesar de ser um dos países espionados pelos Estados Unidos, e que Brasília tenha dito que o fato era “extremamente grave”, divulgou que não daria asilo político a Edward Snowden, que denunciou a gravíssima ofensa inferida ao gigante sul-americano. Outra coisa: a reação muito lenta da presidenta brasileira ante o sequestro do qual foi vítima Evo Morales na semana passada: se os presidentes de Cuba, Equador, Venezuela e Argentina (amém do Secretário Geral da Unasul, Alí Rodríguez) tardaram apenas poucos minutos após a divulgação da notícia para expressar seu repúdio ao acontecido e sua solidariedade ao presidente boliviano, Rousseff necessitou quase quinze horas para fazê-lo.
Depois, inclusive, das duras declarações do Secretário Geral da OEA, cuja condenação foi conhecida quase simultaneamente à dos primeiros. Conflitos e ‘puxa-encolhe’ no interior do governo que, aduzindo um inverossímil pretexto (os massivos protestos populares dos dias anteriores, já menos expressivos), impediram que a mandatária brasileira fosse ao encontro que se realizou em Cochabamba, uma cidade localizada a escassas duas horas e meia de avião a partir de Brasília, debilitando o impacto global dessa reunião e, em plano objetivo, coordenando-se com a estratégia dos governos da Aliança do Pacífico que, como o sugerira o presidente Rafael Correa, bloquearam o que deveria ter sido uma cúpula extraordinária de presidentes da Unasul.
Para uma América Latina emancipada dos grilhões neocoloniais, é decisivo contar com o Brasil. Porém, isso não será possível a não ser a conta gotas enquanto não se resolva a favor da América Latina o conflito entre aqueles dois projetos em pugna.
Isso não só converte o Brasil em um ator vacilante em iniciativas como o Mercosul ou a Unasul, o que incide negativamente sobre sua gravitação internacional, mas o conduz a uma perigosa paralisia em questões cruciais de ordem doméstica. Por exemplo, ao não poder resolver desde 2009 onde adquirir os 36 aviões caça que necessita para controlar seu imenso território e, muito especialmente, a grande bacia amazônica e subamazônica, apesar do risco que implica dilatar a aquisição das aeronaves aptas para tão delicada tarefa. Uma parte do alto mando e a burocracia política e diplomática se inclina por um reequipamento com aviões estadunidenses, enquanto que outra propõe adquiri-los na Suécia, na França ou na Rússia. Nem sequer Lula pôde resolver a discussão.
Essa absurda paralisia se destravaria facilmente se os envolvidos na tomada de decisões se fizessem uma simples pergunta: quantas bases militares têm na região cada um dos países que nos oferecem seus aviões para vigiar nosso território? Se fizessem a pergunta, a resposta seria a seguinte: Rússia e Suécia não têm nenhuma; a França tem uma base aeroespacial na Guiana Francesa, administrada conjuntamente com a OTAN e com presença de pessoal militar estadunidense; e os Estados Unidos têm 76 bases militares na região, um punhado delas alugadas a –ou coadministradas com – terceiros países como o Reino Unido, a França e a Holanda.
Algum burocrata do Itamaraty ou algum militar brasileiro treinado em West Point poderia aduzir que essas se encontram em países distantes, que estão no Caribe e que têm como missão vigiar a Venezuela bolivariana. Porém, equivocam-SE: a dura realidade é que, enquanto a Venezuela é espreitada por 13 bases militares norte-americanas instaladas em seus países limítrofes, o Brasil encontra-se literalmente rodeado por 23 bases, que se convertem em 25 se somarmos as duas bases britânicas de ultramar, com que contam os EUA – via Otan – no Atlântico equatorial e meridional, nas Ilhas Ascensión y Malvinas, respectivamente.
Por pura coincidência, as grandes jazidas submarinas de petróleo do Brasil encontram-se aproximadamente na metade do caminho entre ambas as instalações militares. Ante essa inapelável evidência, como é possível que ainda haja dúvidas sobre a quem comprar os aviões que o Brasil necessita? A única hipótese realista de conflito que esse país tem (e toda a América Latina) é com os Estados Unidos. Nessa parte do mundo há alguns que prognosticam que o enfrentamento será com a China, ávida por ter acesso aos imensos recursos naturais da região. Porém, enquanto a China invade a região com incontáveis supermercados, Washington o faz com toda a força de seu fenomenal músculo militar, porém, rodeando, principalmente, o Brasil.
E, como se fizesse falta, George W. Bush reativou também a IV Frota (em outra dessas grandes casualidades da história!) justamente poucas semanas após o presidente Lula anunciar o descobrimento da grande jazida de petróleo no litoral paulista. Apesar disso, persiste a lamentável indefinição de Brasília. Ou seus dirigentes ignoram os ensinamentos da história? Não sabiam que John Quincy Adams, o sexto presidente do país do Norte, disse que "Estados Unidos não têm amizades permanentes, mas interesses permanentes”?
Os funcionários a cargo desses temas desconhecem que nem bem o presidente Hugo Chávez começou a ter suas primeiras diferenças com Washington, a Casa Branca dispôs o embargo de todos os envios de peças, reposições e renovados sistemas de aeronavegação e combate para a frota dos F-16 que a Venezuela havia comprado, motivo pelo qual tudo ficou inutilizado e teve que ser substituído? Não é necessária muita inteligência para imaginar o que poderia acontecer, o que não é improvável, caso acontecessem sérias diferenças entre o Brasil e os EUA, por exemplo, na disputa pelo acesso a alguns minerais estratégicos que se encontram na Amazônia; ou pelo petróleo do pré-sal; ou o cenário do "caso pior”, se Brasília decidisse não acompanhar Washington em uma aventura militar encaminhada a produzir "uma mudança de regime” em algum país da América Latina ou do Caribe, replicando o modelo utilizado na Líbia ou o que se está empregando a ferro e fogo na Síria.
Nesse caso, a represália que mereceria o "aliado desleal”, nesse hipotético caso, o Brasil, que renuncia a cumprir com seus compromissos, seria a mesma que se aplicou a Chávez, e o Brasil ficaria indefeso. Tomara que essas duras realidades comecem a ser discutidas publicamente e que essa grande nação sul-americana possa começar a discernir com clareza onde estão seus amigos e quem são seus inimigos, por mais que hoje se disfarcem com pele de ovelha. Isso poderia por fim a suas crônicas vacilações.
Tomara que esta semana do Mercosul, em Montevidéu, e a próxima, da Unasul, possam converter-se nas ocasiões propícias para essa reorientação da política externa do Brasil.
Atilio A. Boron é sociólogo argentino.
Tradução: ADITAL